Quando menino, Daniel acordava cedo para que o sol já o encontrasse desperto. Saía com a família para ajudar na roça, coletar frutos e aprender tudo que sua mãe tinha para lhe ensinar naquele dia. E não só a sua mãe: as crianças eram criadas por todos os pais da aldeia, então os ensinamentos iam se espalhando e se internalizando em uma responsabilidade coletiva.
Na hora do almoço, todos voltavam, comiam a pesca ou a caça do dia e o restante da tarde era recheado de liberdade e diversão com os primos e as crianças da aldeia. Também, pudera: seu quintal era nada menos do que a Floresta Amazônica, com direito a banho de rio no fim da tarde e, quando o sol também já ia se despedindo no céu, uma conversa com a família ao redor da fogueira antes de ir deitar.

“O sono vinha e pronto. Aí ficava só a saudade do amanhã, né? Saudade do que ainda iria acontecer. Era uma vida muito suave, porque a gente não tinha compromisso com o relógio. Nosso relógio era o ciclo da natureza”, lembra, cheio de poesia, Daniel Munduruku. Ele é autor dos livros “Redondeza”, “A chave do meu sonho” e ”Vozes ancestrais: dez contos indígenas” (todos eles enviados em nossos kits!), além de mais de 50 obras onde aborda temas ligados aos povos originários e à cultura indígena no Brasil, o que já lhe rendeu prêmios importantes como o Jabuti.
Na época descrita acima, o escritor, educador e curador do clube de assinaturas Quindim vivia na aldeia Munduruku, no Pará, onde passou sua primeira infância até ser obrigado, durante o regime militar, a se matricular numa escola urbana. A quebra de rotina foi abrupta: saiu o ciclo do sol, entrou o contar do relógio.
“Foi uma ruptura muito grande. A maneira como pensamos o mundo numa aldeia é completamente diferente de como o vemos numa cidade. E para uma criança que vem da circularidade, da redondeza, foi muito violento”, lembra ele. “Tinha muito preconceito. Como é que alguém, que vive de maneira ‘quadrada’ conseguiria conviver com alguém completamente diferente? Eles impunham para nós um pensamento civilizatório. Como se nós não soubéssemos nada e tivéssemos que aprender tudo. Foi um choque absurdo. Eu tantas vezes desejei fugir da escola”, conta.
Foi um tempo de muito bullying e conflitos internos, como ele mesmo pontua. “E com o passar do tempo, a coisa entrava tanto na nossa cabeça, que a gente começava a negar quem, de fato, éramos”, lembra. Foi então que, durante as férias, de volta à aldeia, Daniel entendeu, enfim, que precisava se reconectar consigo e com suas raízes.
O ensinamento veio através da figura do seu avô. Quer dizer, não apenas de seu avô de sangue, mas das pessoas mais velhas de seu povo. De novo, o esforço de criação era comunitário. “Eles foram muito sábios e fizeram o que os avós têm que fazer: oferecer pertencimento, oferecer o que hoje chamamos aqui de esperança. Meu avô começou a trabalhar a minha cabeça, ele dizia sempre: importante não esquecer quem a gente é, de onde a gente veio, porque isso vai morar dentro de nós para sempre. E quando mora dentro, a gente nunca mais se perde”.
Hoje, aos 59 anos e consagrado em suas escolhas, Daniel também segue espalhando os ensinamentos que coletou pela vida através de livros, aulas e entrevistas como esta. Em tempos de desrespeito tão grande com os povos originários e devastação da terra indígena, é preciso parar para ouvi-lo.
Como numa grande roda de conversa no fim de um dia, poderíamos fazer o exercício de escutar outras vivências, como as de Munduruku, para ampliar nossa visão para maneiras mais coletivas e acolhedoras de criar as crianças. Afinal, segundo ele mesmo pontua, “o mais importante de tudo é que os pais se questionem, porque eles só vão ensinar aquilo que sabem”.
E quanto maior a diversidade neste olhar, maior a chance de conseguir transmitir aos nossos filhos uma maneira de transitar pela vida respeitando os ciclos (internos e externos), em sintonia com a nossa redondeza e menos conduzidos pelo tic-tac do relógio.
A seguir, confira uma conversa enriquecedora que tivemos com o autor:
Fernanda: Daniel, o que você se lembra da sua infância?
Daniel Munduruku: Sou nascido dentro de uma comunidade Munduruku lá, no meio da Floresta Amazônica. Eu vivi minha primeira infância até meus oito anos dentro do contexto de aldeia. A partir disso, por questões políticas (e naquele momento, eu não entendia direito), acabei sendo mandado pra cidade pra estudar. A memória que eu tenho da minha primeira infância é de um lugar em total sintonia com a natureza, completamente afastado de prisões, quaisquer que sejam elas.
F: E como era a relação com sua família e com as pessoas ao seu redor?
DM: A infância indígena, a infância Munduruku, é muito livre. A gente trafegava por todas as casas e é comum, desde criança, entender que a comunidade toda é responsável pela nossa educação. Então, nós não temos apenas um pai e uma mãe. Nós temos vários, todos aqueles que têm filhos são pais das outras crianças também. De modo que crescíamos sem medo, sem travas. É um pouco desse pensamento circular. De que tudo caminha bem, se todos se responsabilizarem pelo andamento das coisas.
F: Então a presença do entorno era muito forte para o desenvolvimento infantil…
DM: É uma visão coletiva de responsabilidade. Naquela época, por exemplo, não tinha escola dentro da aldeia, então a ideia de professor era muito estranha pra nós. Porque não tinha ninguém que ensinasse por obrigação ou porque era a sua profissão. Nós estamos juntos e todos são responsáveis por passar o conhecimento que possuem para as outras gerações.
F: É o que podemos chamar de aprendizado a partir da vivência, não é?

DM: Sim e a partir, quase sempre, de uma experiência. O saber indígena é um saber muito prático. Os indígenas são muito pragmáticos. Aprendemos aquilo que é necessário saber para continuar a vida como ela nos é apresentada. Por isso, a gente faz as atividades junto com os adultos. Onde a mãe vai, as crianças vão atrás e não importa se é a mãe biológica ou se é a tia, uma prima…
F: E como foi ter que ir para a escola na cidade e ter uma rotina tão diferente da que você conhecia?
DM: Foi uma ruptura muito grande. Principalmente, mental. O que prevalecia na cidade era justamente o pensamento quadrado. Então, a gente tinha que aprender a pensar como eles. E todo o sistema estava voltado pra fazer pensar quadrado e não circular – o nosso pensar circular passava pela fala do idioma, pelos rituais de canto de dança, pela pintura corporal, pela sacralidade das coisas – e a cidade dizia que não cabia isso ou, se coubesse, tinha que ser de acordo com aquilo que eles imaginavam que era ser civilizado. Como se nós não soubéssemos nada e tivéssemos que aprender tudo. Foi um choque absurdo. Eu tantas vezes desejei fugir da escola. Só não podia, porque os militares ameaçavam os pais, que, com medo, nos obrigavam a permanecer na cidade.
F: Havia acolhimento e respeito entre os colegas na escola?
DM: Não, era bullying direto e por isso mesmo que muita gente desistia. Depois, com o passar do tempo, a coisa entrava tanto na nossa cabeça que começamos a negar o nosso pertencimento. Fui até percebendo que quem praticava bullying em mim, na verdade, se parecia comigo. Tínhamos vindo do mesmo lugar, talvez não do mesmo território, mas do mesmo lugar de pertencimento. Então, acredito que para negar eles mesmos, eles tinham que nos ajudar a negar o nosso pertencimento. Era como se fosse um certificado de legitimidade para eles. Então, era meio maluco. Eu sofri muito e costumo dizer que eu me vingava na educação física, porque me destacava e o professor voltava o olhar para mim. Hoje eu entendo que essa também era a maneira que o sistema usava pra me catequizar, me colonizar, sabe?
Veja também: O que é cyberbullying e como proteger as crianças do bullying virtual.
F: E como você conseguiu preservar a ancestralidade e a importância da cultura indígena na sua formação durante a juventude?
DM: É aí que entra a figura do velho avô, né? Na verdade, dos avós em geral. A sociedade branca, para usar um termo bem genérico, desqualifica a sabedoria dos avós por não considerá-los produtivos. Já os nossos povos consideram os mais velhos muito importantes. Eles são antenas na comunidade, porque eles vão percebendo. Naquele momento, em que o regime militar estava muito agressivo com os indígenas, em particular, eles começaram a perceber que iriam nos perder. Eles foram muito sábios ao oferecer pertencimento, oferecer o que hoje chamamos de esperança. Quando voltei para passar as férias, meu avô começou a trabalhar a minha cabeça, ele dizia: importante não esquecer quem a gente é, de onde a gente veio, porque isso vai morar dentro de nós para sempre. E quando mora dentro, a gente nunca mais se perde. E isso foi influenciando nas minhas escolhas. Fui construindo meu modo de atuar no mundo e fui sendo aquilo que o avô ensinou que deveria ser: um cara do presente.
F: E este valor de pertencimento foi algo que você conseguiu transmitir aos seus filhos?
DM: Eles acabaram aprendendo isso mais naturalmente. Minha esposa não é Munduruku e ela tem toda essa questão da urbanidade dentro dela. O nosso encontro foi uma aproximação muito legal, porque ela aprendeu comigo e eu aprendi com ela e essa sincronicidade acabou reverberando nas crianças. Eu tenho três filhos, o mais velho tem 30 anos. Não diria que eles são militantes da causa indígena, mas são bem preparados, são tolerantes, respeitosos, mas também são irados contra a injustiça, contra a violência, contra esse ecocídio dos últimos anos. Hoje estamos sofrendo pela situação dos Yanomamis, tentando fazer alguma coisa para amenizar essa dor.
F: No seu livro, “Coisas de Índio”, você fala: “só respeita o outro, quem conhece o outro”. Sabemos que as vivências de infância são muito diferentes na cidade, nas aldeias, nas comunidades… Como é possível apresentar para as crianças outras formas de viver?
DM: O grande mestre dos filhos são os pais. A grande pergunta que nós temos que fazer é “qual é o indígena que mora dentro da gente?”. Se é o indígena romantizado que muitos pais aprenderam ou se é um indígena contemporâneo, envolvido com a sociedade, com a mudança social. Se for o romantizado, eles não vão se importar se a escola resolver pintar as crianças no dia 19 de abril. Eles vão até cobrar isso! Agora, se a gente questiona, e eu acho importante que os pais sejam questionadores, eles vão se perguntar justamente que tipo de pessoa é essa que meu filho está imitando no dia 19 de abril? Isso está ajudando meu filho a ser um ser humano melhor? Será que sair pintado e com um cocar de pena de galinha não vai só alimentar um preconceito, uma mentalidade menos respeitosa com a diferença? Então o mais importante de tudo é os pais se questionarem, porque eles só vão ensinar aquilo que eles sabem. Mas se os pais estão conscientes disso, podem perceber que há uma sabedoria ali que pode ser comunicada.

F: E a literatura é um bom caminho para ampliar nas crianças esses entendimentos de outras realidades e outras formas de aprender?
DM: Temos que dar acesso aos seus filhos a essa cultura e a literatura é um jeito muito bom. Não é a mesma coisa de mostrar as imagens de Yanomamis esquálidos que andam circulando, em que a criança pode criar um impacto tão grande que faz mal a ela.
F: Mas seria interessante que os pais abordassem a realidade que estamos vendo com os Yanomamis, por exemplo, para criar indivíduos mais conscientes dos impactos que as nossas ações podem ter nos povos originários?
DM: Essa não é a realidade dos Yanomamis. Essa realidade é resultado de políticas malfeitas para essas populações. É claro que isso pode ser discutido na mesa do café. Mas é preciso cuidado para que a criança não fixe aquela imagem fora de um contexto, como sendo o retrato dos Yanomamis. Porque, na verdade, eles são alegres, são um povo absolutamente realizado dentro da sua cultura e do seu modo de ser. Isso é o que as crianças precisam saber!
F: É ir respeitando um caminho de entendimento gradual da criança até chegar na hora de explicar o contexto atual, certo?
DM: E os livros podem ajudar nisso. Não é romantizar, é trazer também o que é real pra eles da vida de um povo que pode ser feliz sem precisar ter carro, casa, avião, sabe? Eu acho que esse é um caminho. Deixar os livros à disposição ou ler com as crianças, mostrar ilustrações, como do nosso “Redondeza”, um livro tão bonito, tão rico. Como educador, minha intenção é sempre mostrar o bonito, mas sem tapar o sol com a peneira: não estou querendo dizer que não tem problema, mas para essa primeira fase da vida da criança, é importante mostrar o belo para que ela capte essa imagem primeiro. Aí depois você vai colocando outras imagens que dialoguem, que mostrem a realidade desses povos.
Veja também: Literatura indígena: conheça obras que semeiam a diversidade dos povos indígenas às crianças.
F: Liberdade, como a que você descreve em “Redondeza”, como no trecho “tem floresta no quintal de casa”, não é o que vive a maioria das crianças nas grandes metrópoles. Como você enxerga esse cerceamento do ir e vir no desenvolvimento infantil?
DM: Eu acho horroroso. Na minha visão de mundo ideal, a escola teria que ser um grande quintal. Pensando que é o lugar onde elas passam mais tempo. Então, elas saem da prisão de casa e vão para a prisão da escola. Isso mantém essa visão linear, sabe? A criança só vai conseguir ver o mundo por essa janela que é apresentada para ela e isso empobrece muito, porque ela não vai ter experimentado no corpo.
F: Ela fica menos presente no mundo, talvez?
DM: Menos presente, exatamente! Pra mim o ideal de escola seria um grande quintal que as crianças pudessem pisar no chão, mexer com barro, né? Existem escolas onde há essas experiências bacanas e é aí que eu acho que as crianças crescem mais equilibradas, sabe? Porque elas se sentem parte. Eu falo que é necessário o Brasil construir a pedagogia do pertencimento. Porque isso vai gerar na criança o comprometimento com o lugar em que ela vive. Ela não vai simplesmente olhar pra natureza e dizer ‘ah, posso derrubar, que tá tudo bem’. Não, ela se compromete com aquele espaço, ela vai perceber que aquela árvore é mais um ser que tá ali e que tem direito a viver também. Criamos um pertencimento, o orgulho de estar naquele lugar.









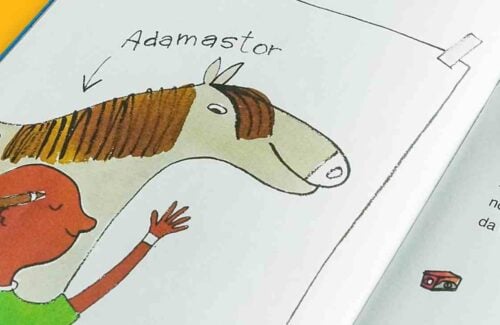 Meu filho tem um amigo imaginário, devo me preocupar?
Meu filho tem um amigo imaginário, devo me preocupar? Sobre crianças e rios: como o incentivo dos pais muda a relação que os pequenos tem com a natureza
Sobre crianças e rios: como o incentivo dos pais muda a relação que os pequenos tem com a natureza O que é a depressão infantil?
O que é a depressão infantil?