O que faz os meninos serem meninos e as meninas serem meninas? Quem cria filhos, ou convive com crianças, percebe como eles se moldam aos poucos nessas diferenças. Para além da diferença física, que exerce seu papel muito mais na frente, meninos e meninas vão aprendendo a se comportar de determinada maneira por meio dos brinquedos que recebem, do que assistem na televisão e aprendem na escola. Basta pensar que, aos meninos, a família e a sociedade vão ensinar a jogar bola e brincar de lutinha, a serem corajosos e não demonstrar sentimentos. Já as meninas são estimuladas a cuidar da aparência, a cuidar das bonecas, e a serem meigas e delicadas. É assim que, na infância, o comportamento que se espera de adultos e adultas vai sendo moldado. Mas será que é assim em outras sociedades?
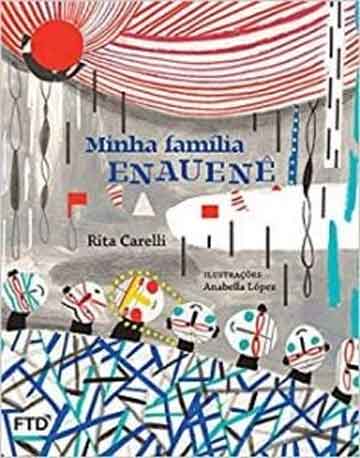
Ilustradora: Anabella López
Editora: FTD
No livro Minha família enauenê, com belas ilustrações de Anabella López e entregue na seleção do Clube Quindim de novembro, a autora Rita Carelli conta sua experiência de ter passado parte da infância na aldeia indígena dos Enauenê-Nauê. Lá, ela observou diferentes papéis e rituais relacionados a ser menino e a ser menina. As meninas e mulheres não passam pelo centro da aldeia, sempre dão a volta por trás das casas. Também ficam com atividades como moer farinha no pilão e fiar, enquanto os meninos se ocupam de caçar e explorar a floresta.
Como vemos em todas as sociedades, o que faz meninos e meninas serem meninos e meninas é justamente essa distribuição de papéis. Tanto que Rita deseja ser um menino e é reconhecida como tal quando desempenha as atividades de meninos e ganha respeito com essas ações. Não é quem ela é biologicamente, mas como se porta diante da cultura que faz a diferença.
Meninos e meninas pelo mundo
Outros povos indígenas delimitam papéis parecidos para meninos e meninas, mas é interessante ver como certas sociedades apresentam comportamentos bem diferentes para cada grupo. Essa foi uma das principais descobertas da antropóloga norte-americana Margaret Mead. A pesquisadora observou o comportamento de adultos e crianças de diversas comunidades ao redor do mundo a partir da década de 1930. Ela constatou que certas características, apesar de serem associadas ao sexo masculino ou feminino, como se fossem naturalmente ou biologicamente masculinas ou femininas, são reflexos culturais.
Notou, por exemplo, que a tribo da Nova Guiné Arapesh demonstrava uma gentileza universal. Homens e mulheres se mostravam gentis, não agressivos e se envolviam, os dois, no cuidado com os filhos, sendo estimulados a isso desde a infância. Também encontrou o povo Mundugumor, por outro lado, agressivos e violentos, sem distinção de sexo. Já no povo Tchambuli, notou que as mulheres tinham um claro protagonismo, com mais poder que os homens – elas forneciam os alimentos, pescavam e faziam as vendas. Os homens cuidavam da arte e da estética, e se mostravam mais emotivos.
Mead constatou ainda que as crianças dessas tribos nem sempre manifestavam comportamentos comuns às crianças norte-americanas, como ciúme entre irmãos. Entre as crianças de Bali percebeu que ficavam muito tempo, até o primeiro ano, sendo carregadas pelas pessoas – homens, mulheres, jovens, idosos e até por outras crianças. Com isso, aprendiam mais sobre o mundo humano e o corpo, e eram estimuladas ao contato.
Inadaptação: uma dor universal
A antropóloga identificou algo interessante em seus estudos e observações. Pessoas dessas comunidades que não se comportavam dentro dos padrões vigentes sofriam opressão e preconceito. A mesma coisa percebemos hoje no Brasil. Com frequência, meninos que brincam de boneca, por exemplo, podem ser repreendidos, assim como meninas que queiram praticar lutas e jogar futebol. Ou seja: independentemente do comportamento imposto, o fato é que impor alguma norma gera sofrimento, pois nem todo mundo vai se sentir à vontade dentro do que é esperado.
Além disso, são os comportamentos esperados de meninos e meninas que levam aos estereótipos, à ideia de que uma mulher deve ser de determinado jeito e que um homem deve ser de outro determinado jeito. Assim, a forma de evitar a construção de estereótipos, que tanto engessam a todos nós, é buscar uma maior neutralidade na criação de meninos e meninas.
Os estereótipos alimentados desde a infância

Experiências nesse sentido já são realizadas em países como a Suécia. Ali, fez-se um estudo com crianças de 3 a 6 anos de uma escola que, entre outras ações, evita a diferenciação de brinquedos para meninos e meninas. A pesquisa comparou o comportamento desses alunos com os de uma escola tradicional. O que se notou foi que as crianças do primeiro grupo tinham menos tendência a reproduzir estereótipos e maior interesse em brincar com crianças do gênero oposto.
Outro risco de alimentar estereótipos de gênero na infância é que isso parece criar opressões desde cedo. Um estudo realizado pela Plan aponta, por exemplo, que mais de 81% das meninas entre 6 e 14 anos arrumam a própria cama, em oposição a 11% dos meninos. Mais de 76% também lavam a louça e 65% limpam a casa, enquanto 12% dos meninos lavam a louça e 11% limpam a casa. Ou seja, as brincadeiras e papéis desenhados na infância já parecem prender meninas ao trabalho doméstico, e liberar meninos.
Sabemos que a distribuição de tarefas domésticas ainda é bem desigual no Brasil. Dados do IBGE de 2017 apontam que, por semana, as mulheres gastam mais de 20 horas com tarefas dentro de casa. Enquanto isso, os homens gastam 10. Uma diferença que parece ser semeada ainda nas brincadeiras que são traçadas na infância, e que cabe a nós, adultos, rever e diversificar.







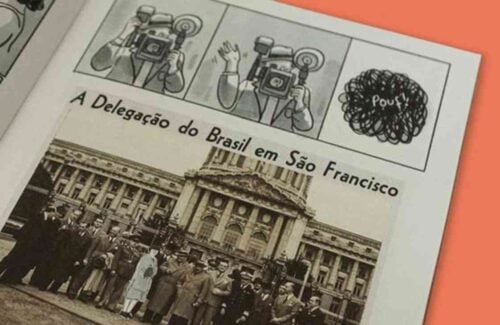 8 livros infantis baseados em histórias reais
8 livros infantis baseados em histórias reais Entrevista com Isabel Malzoni: “Achei muito bonito esse processo de poder dizer para eles que a mãe vai e volta”
Entrevista com Isabel Malzoni: “Achei muito bonito esse processo de poder dizer para eles que a mãe vai e volta” Dia Nacional do Poeta: 7 autores de poesia para apresentar às crianças
Dia Nacional do Poeta: 7 autores de poesia para apresentar às crianças